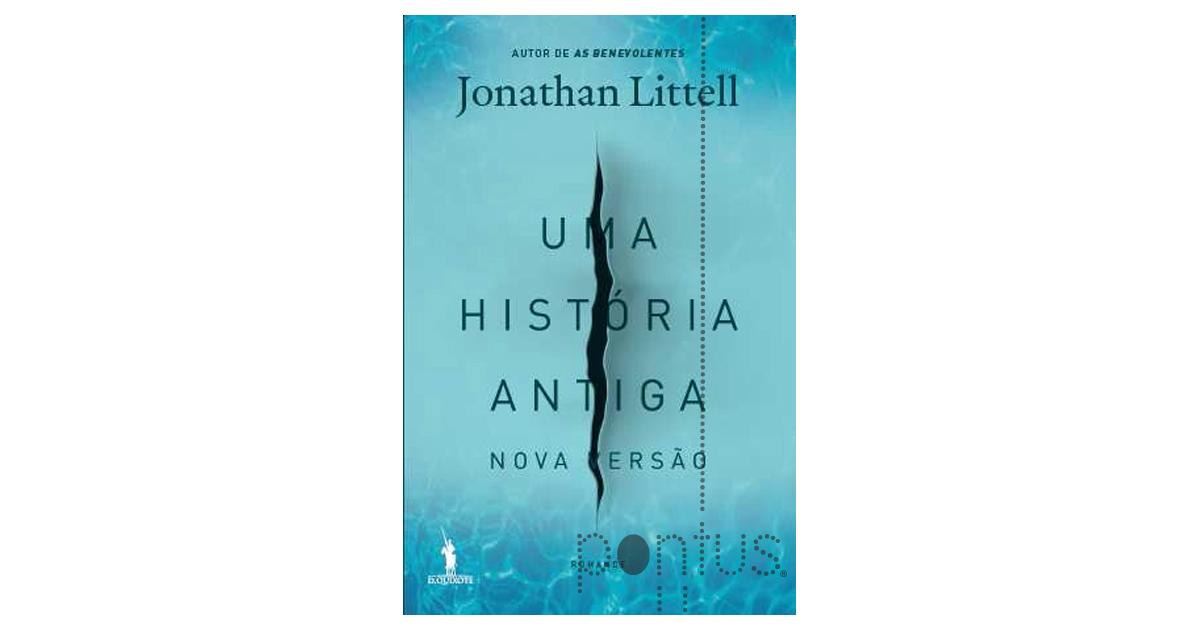Patrick Modiano é
um dos melhores escritores contemporâneos. O espírito de síntese nele é
admirável, expurgando e limitando o adjetivo, a frase bombástica, o espírito
doutoral de nos dar lições, a frase idiomática, o intrincado pensamento de uma
situação ou de uma emoção que só quem escreveu conhece...daí, uma escrita
límpida e limpa, escorreita, cujos factos falam por si e, se quisermos, vemo-nos
a pensar neles profundamente . Quase sempre o queremos, garanto. Dele ainda li
muito pouco: «La Place d’Etoile» que
foi o seu primeiro livro, «Dans le café
de la Jeunesse Perdu», «Pour que tu
ne perdes pas dans le Quartier» e, agora «Dora Bruder» que o escreveu em 1997,
na Gallimard. É deste último que vos quero falar. Talvez um dia deixe registos
dos outros. Ameaço, sim.
Dora Bruder, não
está presente. Ou melhor, não existe fisicamente, mas toda a linha de narrativa
a vai encontrar. No entanto, Patrick Modiano segue-lhe o rasto desde que,
ocasionalmente, lê um anúncio no Le Soir de 1942. Alguém que procura
uma menina, Dora Bruder, porque necessitam de saber o seu paradeiro
urgentemente. O seu remetente é um pequeno hotel, em Paris, onde vivem os seus
pais. O pai, 100% de incapacidade, gaseado na I Guerra Mundial, não se sabe a
sua profissão. A mãe, costureira, é doente e francesa «ariana» tal como a polícia
da ocupação a regista, por imposição alemã. Primeira interrogação: o que leva,
em 1942, ano de terror total por parte das gendarmeries
para com os judeus franceses que eram entregues no campo de Tourelles, depois na prisão
de Drancy com destino a Auschewitz e
Dachau, a publicar um anúncio
desesperado por uma jovem judia de 18 anos, não reconhecendo o perigo de ser
toda a família descoberta pela Brigada de Tratamento dos Judeus Franceses? Bom,
o resultado foi a prisão do pai, o enfranquecimento físico e psicológico
contínuo da sua mãe e, como «amiga» de judeus, deportada igualmente para
Auschwitz mais tarde, quando as leis nazis começaram a apertar ainda mais. Mas
ainda vê a filha em Paris.
Dora Bruder não aparece em fotos ou fisicamente como se
disse atrás. Se Patrick Modiano o fizesse ou conseguisse entrevistá-la em 1997
teria ela 90 anos. Foi possível falar com algumas amigas que estiveram no campo
de Tourelles, depois em Drancy e fim da viagem em Auschewitz. Foi este o
roteiro. Antes, Dora Bruder passou
por um reformatório de freiras, durante 8 anos, portanto, desde os dez.
Pensaria o pai que assim a protegeria? Segundo a madre superiora ela era uma
rapariga rebelde, independente, amada pelas colegas, agreste para com as
freiras e registada a sua fuga definitiva em 1942 (houve várias anteriores).
Esteve meses escondida. Onde? Quando foi apanhada sem a braçadeira amarela de
judia foi imediatamente presa na casa dos pais, denunciada pelos vizinhos que
ainda afirmaram aos gendarmes que era
habitual Dora Bruder andar na rua sem a estrela de David (alguns judeus tentaram
assim escapar sem sucesso). O nojo sobe-nos à boca! Com ela foram presas mais
cinco judias, devidamente registadas nos arquivos de hoje, sendo a acusação
mais comum não usarem a braçadeira identificadora. A seguir vinha a tentativa
de fuga para a «zona livre» de França. Nunca mais sairam da prisão. É por aqui
que Patrick Modiano sabe mais de Dora Bruder por depoimentos que ouviu de
companheiras dela e nos registos encontrados nos campos e prisões. No fim da
leitura do livro, sentimo-nos com emoções desencontradas. Não é só o genocídio
nazi. É a submissão total aos totalitaristas alemães de alguns (muitos)
franceses e insituições francesas que faziam o trabalho sujo de denúncia,
prisão e entrega aos esbirros das SS. Também nos interrogamos que vida viveu
Dora Bruder, esta jovem cuja liberdade foi refreada anos a fio desde Paris até
à sua morte em Auschewitz. E nos outros países ocupados pelos alemães, como
foi?
Mas houve quem se revoltasse para além da Resistência
organizada. Pessoas que se solidarizaram com os judeus e contra a ocupação.
Assumo toda a responsabilidade da rápida
tradução de Modiano:
Sobre a solidariedade
para com os judeus: «Entre as mulheres que Dora pôde conhecer em Tourelles
encontravam-se aquelas a quem os alemães apelidavam ‘’amigas de judeus’’: uma
dezena de Francesas ‘’arianas’’ que tiveram a coragem de, em junho [de 1942], no
primeiro dia em que os judeus deveriam usar a estrela amarela, as trazerem no
braço em sinal de solidariedade, mas de um modo fantasista e insolente para com
as autoridades de ocupação. Uma delas colocou uma estrela no pescoço do seu
cão. Uma outra, bordou por cima da estrela a palavra Papou. Outra: Jenny.
Outra ainda coseu oito estrelas à cintura e em cada uma figurava a palavra Victoire. (...) Presas em Drancy,
exerciam as seguintes profissões: dactilógrafa. Empregada de uma papelaria.
Vendedora de jornais. Mulher de limpezas. Empregada dos PTT. Estudantes.»
Sobre a ação da
Polícia Juciária e Polícia Municipal Francesas nas leis antijudaicas: «I-Judeus - homens de 18 anos ou mais:
Todo o judeu em infração será enviado
para a prisão sob a responsabilidade de um comissário municipal com a ordem de
envio especial e individual estabelecida em dois exemplares (a cópia é
destinada a M. Roux, comissário
divisionário, chefe das companhias de circulação – secção prisão (...) 2 – Menores dos dois sexos entre 16 e
18 anos e mulheres judias: serão igualmente enviados para a prisão sob a
responsabilidade dos comissários municipais seguindo os modelos já descritos
[eram procedimentos administrativos pormenorizados sobre a situação pessoal, profissional,
económica, etc. de cada judeu]. A permanência na prisão dependerá dos
documentos registados e o envio dos originais à Direção de Estrangeiros e das Questões Judaicas, a quem, depois do parecer da autoridade alemã,
decidirá sobre o seu caso. Nenhuma iniciativa será efetuada sem uma ordem
escrita desta Direção». Para que fique registado o nome da Direção da Polícia
Judiciária era um simples Tanguy,
assim como da Direção da Polícia Municipal era um não menos ambíguo Hennequin!
Sobre os regimes de
internato jovem, Modiano conta a sua própria experiência de fuga que transporta
para o colégio interno onde esteve Dora Bruder perto de 10 anos: «Lembro-me
a forte impressão que tive após a minha fuga de janeiro de 1960 – tão forte que
creio nunca ter conhecido sensações semelhantes. Foi a bebedeira de cortar, de
um só golpe, todos os laços: rutura brutal e voluntária com a disciplina que se
nos impõe, o colégio, os professores, os companheiros de sala de aula.
Decididamente, não conseguirão fazer nada com este tipo de gente; rutura com os
pais que não souberam amar-nos e em que se afirma que nunca deverão esperar
algum futuro de nós; sentimentos de revolta e solidão presentes na
incandescência e que nos corta a respiração e nos coloca no vazio. Uma das
raras ocasiões da minha vida, sem dúvida, onde fui verdadeiramente eu e onde
caminhei com o meu próprio passo.
Este extâse não poderia durar muito tempo. Não teria nenhum
futuro. Mais depressa do que julgamos somos quebrados pela nossa situação.
A fuga – parece-me – é um apelo de ajuda e muitas vezes em
forma de suicídio. Provam, até, um breve sentimento de eternidade. Não cortaram
somente as ligações com o mundo, mas igualmente com o tempo. Ele chega ao fim
de uma manhã, o céu de um ligeiro azul e que niguém nos pesa com a sua
presença. Os ponteiros do relógio do Jardim das Tulherias estão imóveis para
sempre. Uma formiga não chega a atravessar a largura do sol.»
Dora Bruder,
sentir-se-ia assim quando da última fuga. É possível, segundo Modiano, que
estivesse na casa da mãe onde foi presa, na casa de amigos, na casa de «amigos
de judeus» ou simplesmente na casa de 5 jovens judeus escondidos nas
águas-furtadas de um prédio no próprio boulevard
onde a mãe habitava. A questão não é contudo só essa. É que todos somos Dora Bruder, se a banalização desta frase hoje
não tivesse o sentido que na França de 42 se dava num sentido mais vital. Lá,
era a vida ou a morte. Com todos a contemplar e a trair. Provavelmente,
cidadãos imaculados de qualquer crime e de não quererem interiorizar que os
cometeram. Escondidos, atrás das cortinas.
António Luís Catarino
Delémont, Suiça, 31 de dezembro de 2019