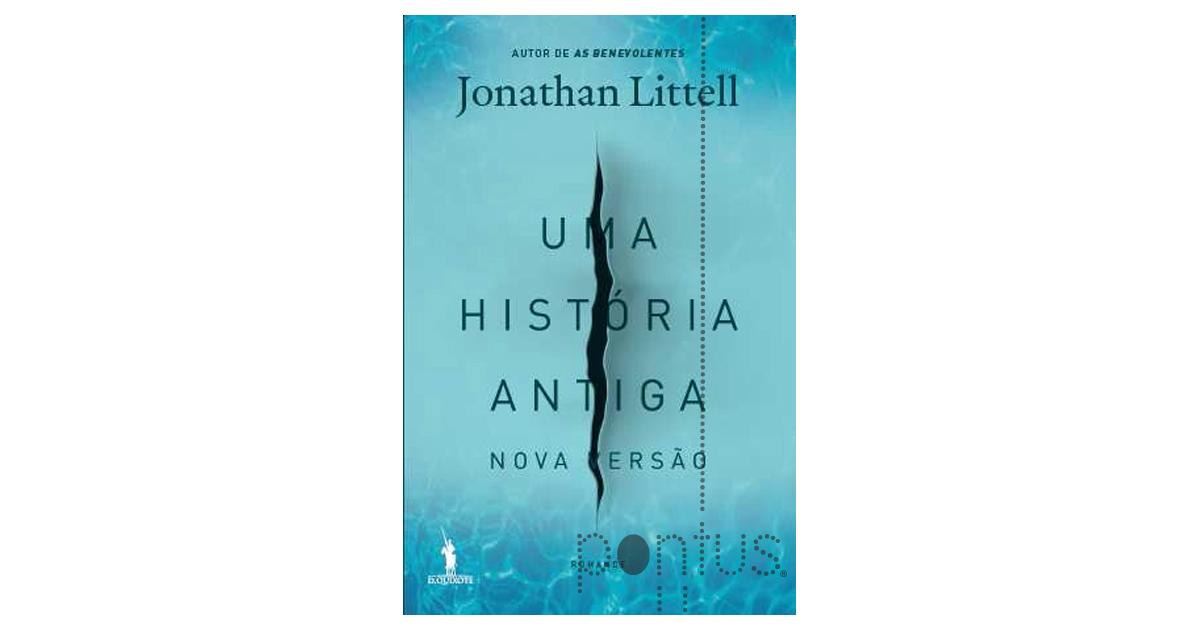
Uma História Antiga – Nova Versão, de Jonathan Littell é
um círculo vicioso. Ou pode ser uma história que cresce de uma forma
helicoidal, como uma mola em hélice, mas sem clímax. Ou nem sequer pode ser uma
história. Não há, de facto, uma história, nem personagens descritas
psicologicamente, ou uma identificação que seja, um nome, ou uma imagem, um
ícone. Nada. Portanto, sentir-te-ás seguro de poder identificar-te com todas
elas. Há, contudo sequências narrativas em catadupa. Em capítulos e entre
capítulos. É uma verdadeira viagem aos infernos criado por Littell, após um
outro inferno que foram as suas As Benevolentes escritos já há doze
anos.
Na leitura de Uma
História Antiga podes progredir em corredores estreitos, quase sempre
escuros. Estás vestido/a com um fato de treino cinzento, cómodo. Encontras
sempre uma maçaneta metálica que dás por acaso em labirintos em Y ou V.
Após passares um umbral, encontras uma piscina onde te banhas e ouves sussuros,
gritos de crianças e adultos que riem para, depois, entrares em quartos, em
bosques ou quintais. Os quartos têm quase sempre edredãos, cobertores ou
cortinas com flores verdes cosidas num fundo dourado. Os tapetes são vermelho
sangue. Aí tudo pode acontecer num frenetismo de quase 400 páginas. Podes ser
um pai de família que se entedia com o seu filho e as sua mulher, louros e belos.
Podes ter mulheres igualmente louras e belas com um «carrapito meticulosamente
penteado», mulheres matadoras e homens gentis, homens brutos que te violam ou são submissos e meigos e tu
transformas-te num sádico. O sexo nunca é recusado; é, antes, uma vertigem necessária.
Seja ele de que tipo for: em orgias dionisíacas, transformando-te em mulher,
lésbica dominadora ou dominada, homossexual, trans, travesti, bissexual ou heterossexual,
vendo crianças em jogos íntimos com os sentidos sexuais a aflorarem à pele, um
tema quase tabu. Isto pode não ser o inferno. Ainda não o é completamente,
embora algumas cenas desemboquem em violência pura e dura. Pelo meio, duas
obsessões: o quadro da Rapariga com Arminho de Leonardo, as sonatas
para piano e trechos da ópera Don Giovanni de Mozart.
O que te perturba verdadeiramente na leitura deste livro é a violência da
guerra e como ela é descrita, com os horrores que nos entram sem pedir licença.
Estas cenas são apostas entre os capítulos e sem esperares estás a ler o
inferno descrito em Gaza, na Tchetchénia, num país em guerra civil em África,
na América do Sul, na miséria absoluta na Europa ou seres amante de um chefe de um bando criminoso que controla a polícia. Joanhatan Littell, soube há pouco, esteve e está amiúde em teatros
de guerra. Ele sabe do que fala e descreve como ninguém o que viu, o que
presenciou, o nojo e o asco que sentiu. Filmou tudo o que pôde pelo telemóvel,
parece-me. Mas atreve-se a ser um perpetrador de um massacre e relata o gosto
que isso lhe dá. Nós, tu e eu, não damos importância nenhuma à guerra. Vemos bombas e tiros. Nunca vimos cadáveres disformes, nem nunca lhes sentimos o cheiro. Até porque jantamos cedo. Ela está
tão longe que não pressentimos do que o Homem é capaz. Do mais aviltante e inumano, até ao saber infligir o cúmulo da dor ao outro.
O autor já ameaçou de pancada vários jornalistas e é esquivo
o suficiente para não o encontrarmos e fazer-lhes as perguntas necessárias.
Provavelmente, a sua irritação terá a ver com isso mesmo: ninguém ainda teve a
coragem ou sabe a pergunta que quer que lhe façam ou que repitam sempre as
mesmas. No entanto, ele aí está, premiado e procurado pelos media que, entretanto, se
borrifam. Ele está sempre em fuga. Penso que se vivesse no século XVIII seria
Sade e a sua premência de liberdade individual e política contra os fortes ou,
mais tarde, poderia ser Sacher Masoch. Mas não me atrevo a classificar Jonathan
Littell de quem nunca falhei um livro. Fiquemos talvez por Nietzche. Talvez...
António Luís Catarino
Coimbra, 27 de outubro de 2019