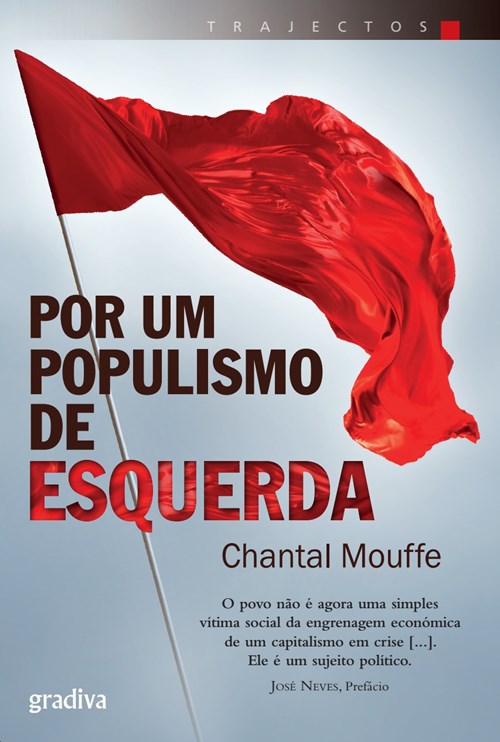|
| Kenneth White, autor de O Espírito Nómada, editado pela Deriva Editores em 2008 Foto Revista Caliban |
Publicámos «O Espírito Nómada» de Kenneth White
em 2008, na Deriva Editores, e com tradução de Luís Nogueira, pelo que
este artigo é também uma lembrança feliz deste último, já desaparecido. O
primeiro editou-o a Relógio d´Água em 1987, com tradução de Maria Regina Louro.
Desde logo nos pareceu um autor peculiar e inovador na abordagem à poesia,
dando-lhe novas formas e modificando-lhe o conceito habitual entre nós «os
contemporâneos». Não deixa de ser paradoxal que em Portugal só se tenha publicado
dois livros dele, quando se conhece a enorme bibliografia de Kenneth White,
entre poesia, ensaios e prosa e acompanhado igualmente por um reconhecimento
internacional, sendo professor de Poética em várias universidades. Sendo
escocês das Terras Altas e crescendo nas suas costas foi, contudo, no rude
noroeste da Bretanha onde se fixou permanentemente. Fundou, em 1989, o «International
Institute of Geopoetics» http://institut-geopoetique.org/en/
(o seu site está em várias línguas entre as quais o português). Neste momento
está ao dispor dos interessados um trabalho muito profundo e sério deste autor,
também entrevistado, na revista «Flauta de Luz», nº6, (flautadeluz1@gmail.com) e sob a
responsabilidade de Jorge Leandro Rosa e Júlio Henriques. Esteve entre nós, sem grande publicidade, num colóquio organizado pela FLUL entre 21 e
22 de Maio de 2019.
Kenneth White procura então o mundo branco que
estando à nossa frente, não o procuramos mais virados que estamos para a
tecnologia e para o consumo desenfreado aceitando «bovinamente» um falso bem-estar
e as propostas ditas literárias e poéticas das grandes empresas editoriais. Tentaremos
chegar a esse mundo através das poucas linhas deste artigo e sobretudo pelas
palavras do próprio. Diz K.W.: «Desde há anos, se me acontece passar pelas
cidades, frequento sobretudo as costas…Ao mesmo tempo limite e abertura, área
de resistência e de dissipação, linha definidora e convite ao vazio, a costa é
sem dúvida o lugar por excelência de uma poética de energia, de uma
cosmografia em acção, de uma meditação movente» (Les Rives du Silence,
p.7).Promove assim um método: o do nomadismo intelectual, tanto no
espaço como no tempo e acrescenta que não há nele qualquer diletantismo, antes
uma prática na qual «viagem e visão seguem juntas». Avisa, todavia: «não se
trata de uma simples aventura, nem de uma simples expedição
científica. O seu plano de trabalho comporta diversos estratos, está aberto a
configurações inéditas. No seu cume, encontramos uma concepção de harmonia, uma
estética (…)» Ou seja, promove uma ligação íntima entre a arte poética e a arte
de viver, que, desde o fim dos tempos e a partir de meados do século XX passou
a ser uma emergência.
Numa Carta a Portugal a propósito da Geopoética que faz
parte da Flauta de Luz, nº6 (mereceríamos nós que ele se mexesse para
nos enviar uma carta?) remete-nos para o «nosso» Espírito Nómada, em
cuja terceira parte do livro, Poética do Mundo, trata dos Elementos
da Geopoética. A sua leitura tornar-se-á mais clara. Quem quiser adquirir o
livro nas livrarias já vem tarde. Agora só nos alfarrabistas ou pedindo à
distribuidora da Deriva. Talvez haja por lá alguns. Os autores que mais lhe
chamaram a atenção não deixa de ser singular: Fernando Pessoa no seu Ultimatum,
o seu poema mais nietzscheniano e Miguel Torga. A este último dedica-lhe estas
palavras: «a região natal de Torga foi o Nordeste, em Trás-os-Montes. Mas os
trabalhos que dedicou a este território vão muito mais além de qualquer nostalgia
localista». Para ele Torga é um proto-geopoetista.
Na excelente entrevista que Kenneth White dá a Jorge Leandro
Rosa e Júlio Henriques paremos neste trecho: «O ‘’nómada intelectual’’ que eu
sou, e que desenvolveu, com comprovados exemplos, a teoria prática do nomadismo
intelectual no livro O Espírito Nómada, atravessa territórios e
culturas em busca de elementos susceptíveis de ser incluídos numa possível
cultura mundial. Situado no extremo limite crítico da sua ‘’própria’’ civilização,
este nómada abre um caminho explorando margens de pensamento e de experiências
esquecidas. Lucidamente. Sem se converter seja ao que for. Sem esperança. E por
viver sem esperanças, nunca posso sentir-me desesperado». Kenneth White lançou
aqui uma abertura para o que considera ser o «mundo branco». Ele define-se
atrás como anarco-arcaico e será necessário lembrar este aspecto para que ele
surja logicamente como um inimigo confesso do trans-humanismo que
«acompanhado de robotização e de inteligência artificial, (…) é preciso
resistência. Mais do que resistência, o desenvolvimento de um pensamento
outro.» Mais do que voltar a um humanismo coagulado, construir um humanismo que
rejeite o robô. Mais à frente, para que não permaneçam dúvidas sobre o
humanismo que o autor pretende, ele explica melhor: «Enquanto isso [a
adesão acéfala ao cientismo, à mitologia, ao misticismo, à religiosidade ou à
espiritualidade, ou pior ainda, à má literatura], os inquisidores vigiam, os
guardiães da fé antropocêntrica afiam as armas, os defensores de um humanismo
míope, incapazes de conceber uma evolução fora dos sistemas conhecidos e que
têm acumulados danos, estão prontos a asfixiar o planeta e a humanidade inteira
em nome dos princípios que se pretendam humanistas, humanitários.»
Rui Bebiano, numa recensão ao livro na Ler,
nº73, em 2008 o seguinte sobre Kenneth White e O Espírito Nómada:
«White prefere associar a erudição à forma de errância que alarga a leitura do mundo e, através de «universos de substituição», liberta o
humano do «universo concentracionários das civilizações». Neste livro, escrito
há duas décadas, enunciam-se alguns dos caminhos que essa escolha poderá abrir.
Atravessando múltiplos saberes, o autor procura conduzir o leitor até esse
território radical, que chama de geopoética dentro do qual pretende unir a
presença no mundo a uma estética que seja poderosa, comevedora e bela. Se o
prestígio do «nomadismo intelectual» se afirmou pelo menos desde os românticos,
Kenneth White é dos primeiros a conferir-lhe uma base teórica. (...)»
Da Deriva Editores, escrevemos na contracapa de O
Espírito nómada este trecho de Kenneth White:
«Desde há alguns anos para cá, a palavra “nómada” anda no
ar. De um modo vago e que necessita apenas de tornar-se preciso, designa o
movimento que se esboça no sentido de um novo espaço intelectual e cultural.
Mas nas nossas culturas mediatizadas, cada palavra, de imediato sub-traduzida
torna-se pretexto para uma moda. Do que aqui se trata não é de um assunto de
moda mas de mundo.»
«O nómada que existe em cada um de nós como uma nostalgia,
como uma potencialidade, não tem a noção de identidade pessoal, a «consciência
de si» é-lhe estranha. Sem dizer «penso» ou «sou», põe-se em movimento e a
caminho faz melhor do que «pensar», no sentido denso da palavra, enuncia,
articula um espaço-tempo de múltiplas focalizações que é como que um esboço do
mundo.
O movimento nómada não segue uma lógica rectilínea,
com um princípio, um meio e um fim. Tudo aqui é meio. O nómada não segue para
qualquer lugar, e para mais em linha recta, mas evolui num espaço e regressa
muitas vezes às mesmas pistas, iluminando-as e talvez, se for um nómada
intelectual, com novas luzes.
Neste livro onde se encontrarão portanto mais peregrinações
que problematizações, mais mapas que retratos, o prazer de peregrinar acaba por
levar a melhor sobre o desejo de saber (aumentar e renovar o campo do saber) e
no final da viagem será menos importante a questão de saber do a de ver no
vazio.»
Para ver mais sobre a Deriva Editores e o autor:
http://derivadaspalavras.blogspot.com/search/label/Kenneth%20White ou no marcador Kenneth White em baixo
De qualquer modo o pensamento de Kenneth White e a sua geopoética
não se afasta muito da deriva que sempre propusemos nos
15 anos em que editámos. Foi dos melhores livros publicados, daqueles que nos
orgulharemos sempre.
António Luís Catarino
Coimbra, 26 de Julho de 2019 (onze anos depois)
 |
| Capa da edição de O Espírito Nómada de Kenneth White pela Deriva Editores Autor da capa: Gémeo Luís |