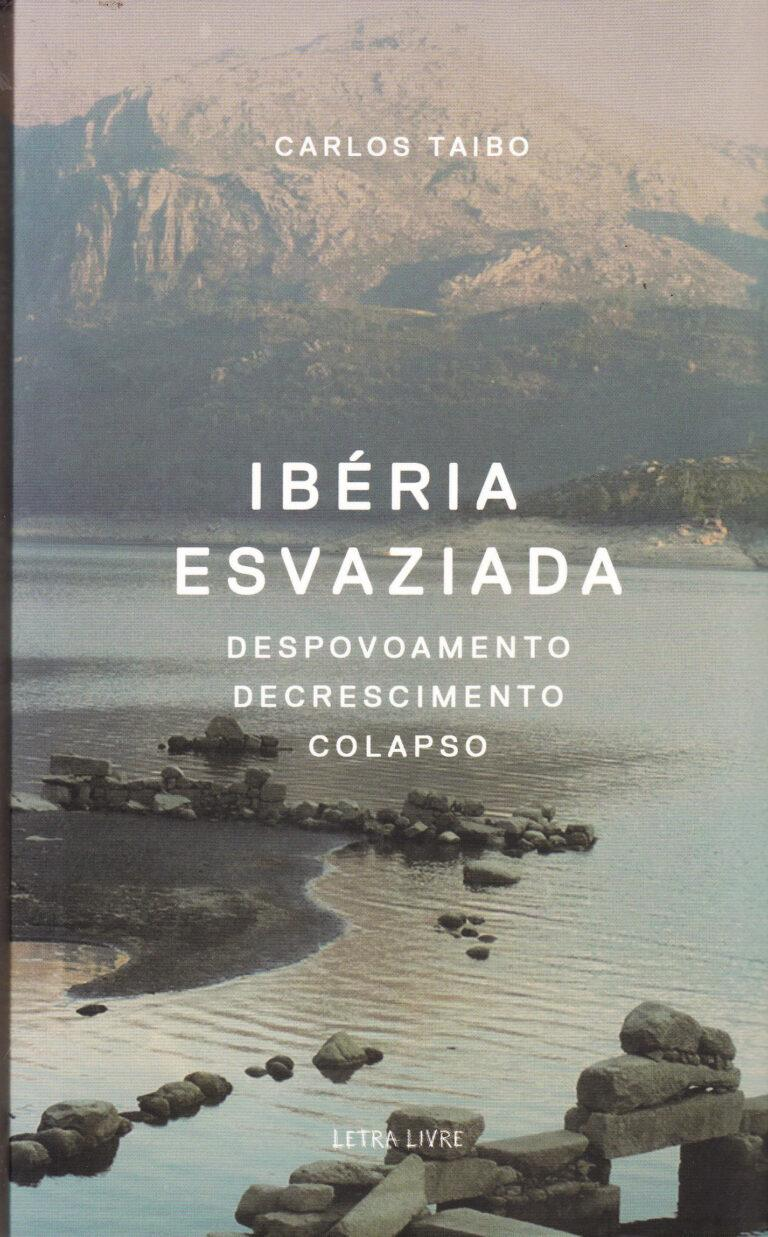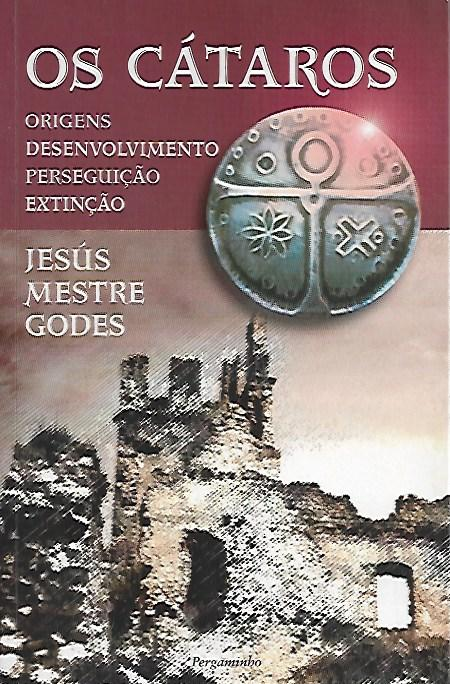Edição da Letra Livre, prefácio de Filipe Nunes, tradução de Pedro Morais
Carlos Taibo já não é propriamente um desconhecido entre nós, embora devêssemos estar mais atentos ao seu trabalho que pode ser considerado polémico pela novidade das suas ideias que são sustentadas em casos directamente conhecidos por ele, em estudos sérios e dados de outros cientistas; mas é inegável a sua importância pelas possibilidades reais de querermos uma fuga ao colapso que se aproxima ou que já está entre nós sem que o saibamos.
Este livro é de 2022 e foi escrito em plena pandemia cujo combate o autor considera ter sido um ensaio para as medidas autoritárias e ecofascistas, mas com outros motivos, para além das sanitárias, para nos confinar aos milhões pelo mundo fora. Atenção que não estamos a ter uma visão negacionista; falamos, sim, de um ensaio autoritário e musculado a populações inteiras que se poderão aplicar a outras situações sejam elas pandémicas, militares (uma guerra, por exemplo), contestações sociais ou políticas.
Em 2019 já aqui falávamos deste professor de Ciência Política na Universidade Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, quando a Letra Livre o Jornal Mapa nos ofereceram o seu livro «Colapso» e aqui foi escrito isto: http://derivadaspalavras.blogspot.com/search?q=colapso . O excelente prefácio de Filipe Nunes abre-nos todas as perspectivas do trabalho de Carlos Taibo em «Ibéria Esvaziada». Perante o despovoamento assustador de uma Ibéria do interior cada vez com menos gente, com serviços sociais inexistentes, sem escolas ou serviços de saúde, correios, transportes públicos, digam-nos se o colapso não chegou já, quer em Portugal ou Espanha.
Mas fixemo-nos na apresentação de Filipe Nunes: «Taibo assume essencialmente um ''optimismo patológico'', contrastante com um ''pessimismo congénito'' que poderia fazer transparecer da sua teoria do colapso. O desafio a que nos convoca é precisamente o de questionar como queremos que seja a sociedade pós-colapso. E desafia-nos literalmente a lançar mãos à terra, pois o colapso, esse, já esta entre nós. Estamos todos cientes do horizonte desesperante das alterações climáticas e do esgotamento das matérias-primas energéticas fósseis, pelo que, num mundo em colapso, prefere sublinhar as consequências positivas que lhe estão associadas: a rerrularização, uma maior autonomia local e fragmentação e o retrocesso dos fluxos hierárquicos.»
Ora, nestas três consequências que serão ao mesmo tempo propostas para o colapso que já se vive ou para o pós-colapso que, segundo os mais optimistas, ainda não veio ou, sequer, virá, Carlos Taibo dá-nos toda uma perspectiva não só de sobrevivência, mas igualmente de possibilidades de felicidade e bem-estar baseado em índices que nada terão a ver com a existência de dinheiro especulativo das sociedades industriais de hoje. O que nos propõe: as associações de apoio mútuo, as correntes de solidariedade humanas e a síntese muito interessante entre as sociedades pré-capitalistas e as redes anticapitalistas que terão de se adaptar, sem sectarismos inúteis, a uma nova realidade. É esta a grande diferença entre o ecofascismo que recusa o crescimento industrial e financeiro especulativo enquanto nos vai enchendo as serras de moinhos eólicos, uma nova mineração brutal e vai arranjando argumentos para a continuidade da carbonização, adiantando que a Humanidade sempre soube encontrar soluções tecnológicas para um colapso, e, por outro lado, uma rede humana que aposta no descrescimento, na autonomia política das decisões das populações, no valor de uso e nas trocas solidárias entre grandes bioregiões. Tudo está em aberto.
Fixa-se igualmente na onda cada vez maior dos neo-rurais: pessoas que não suportam já a vida nas cidades e na ditadura dos automóveis, nos preços exorbitantes das casas e das coisas incluindo os produtos de primeira necessidade, no desemprego, nas altas taxas de criminalidade junto com o autoritarismo latente e cada vez mais arrogante e brutal das instituições políticas e governos, nas doenças pulmonares e cancros cada vez mais agressivos, num individualismo insuportável, etc., etc, Carlos Taibo avisa-nos que esta passagem da cidade para o campo não é propriamente fácil e, muitas, têm-se mostrado um fracasso. Talvez a reprodução de um individualismo urbano para o campo não seja a melhor escolha. No campo, ou se encontra uma rede solidária de trocas, de saber ou materiais, ou esse fracasso não tarda a aparecer.
Voltemos ao prefácio de apresentação de «Ibéria Esvaziada», de Taibo por Filipe Nunes quando cita Júlio do Carmo Gomes num artigo, creio, que inscrito num número do Jornal Mapa: «Como escreveu JCG, invocando os indícios da nossa ancestralidade política, trata-se do resgate da cultura comunitarista como potência política e génese poética, raízes inseparáveis para problematizar as políticas acerca da vida». Este movimento do neo-ruralismo vai crescer, sabemo-lo, até porque os exemplos se multiplicam em toda a Europa que ainda nada no seu fausto de coisas sem grande ou nenhuma utilidade. Em França 25% da agricultura biológica já alimenta o país através do trabalho das ZAD, em Espanha experiências que vieram de 36-39 estão a repetir-se nos Pirenéus e no interior também ele esquecido dos governos, em Portugal a experiência da Reforma Agrária de 74-75 não deixou grandes rastos num proletariado camponês em vias de desaparecimento, mas o movimento cooperativo deixou algumas marcas assim como em aldeias do interior do Alentejo e Trás-os-Montes que tem conhecido um movimento nada negligenciável de famílias jovens que chegam das cidades, tal como na Grécia e sul de Itália.
Carlos Taibo, significativamente, termina este livro interessantíssimo com o título de «silêncio», um valor a que as cidades já não conhecem. Recorreu a Vergílio: «Lavradores se considerariam bem de sorte se tivessem inteira consciência das dádivas enormes que recebem. É a eles que, longe das discórdias, longe das armas, dá a natureza generoso sustento que os mantém.» e ao renovador do cristianismo, no século XIV, Thomas de Kempis: «Procurei repouso em todo o lado e não o encontrei em lado nenhum, excepto em algum recanto com um livro».
Talvez haja um pequeno repouso ao ler este livro, mas que paradoxalmente nos convida a perscrutar todas as verdadeiras possibilidades de uma vida útil, é uma verdade muito difícil de contrariar. E ainda bem.
António Luís Catarino