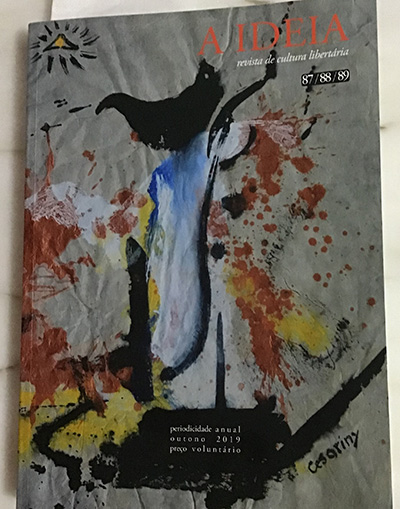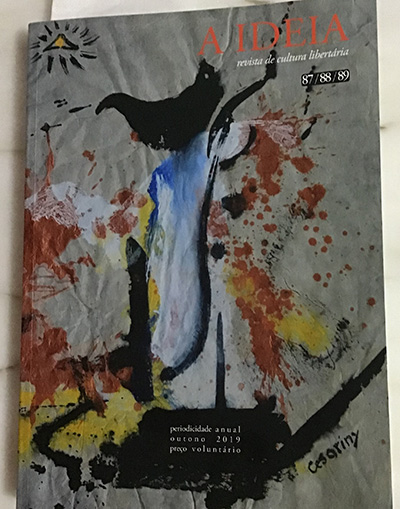 |
«A Ideia». Revista de Cultura libertária. Nº 87/88/89. Os 100 anos do Surrealismo & outras datas |
Habituei-me a ler «A Ideia» desde sempre. Este número
vale (muitíssimo) por si próprio quando se assinalam três datas directamente
ligadas a uma publicação que se define como de «cultura libertária». São 45
anos da criação d’«A Ideia» num círculo de exilados portugueses em Paris e
com divulgação assídua em Portugal, mais o apontamento circunstanciado dos 100
anos do jornal «A Batalha» que, como sabem os que acompanham minimamente as
lutas operárias do século XX, chegou a ser um diário com uma tiragem de 10 mil
exemplares, julga-se, logo atrás de dois jornais institucionais. Para além
desta nota, lembrar que foi o órgão anarquista da União Operária Nacional cujo
congresso fundacional foi, creio eu, em Tomar e que deu origem à forte CGT. E
ainda outro centenário importante para a iniciação de um verdadeiro e
genuíno debate a que este número d'«A Ideia» contribui de uma forma indelével
– falamos da publicação de «Les Champs Magnétiques» de André Breton e
Philippe Soupault, em 1919, e que foram «cruciais para o nascimento do
surrealismo entre 1922 e 1924».
A revista muito pela responsabilidade de
António Cândido Franco que coordenou um Inquérito sobre o Centenário da
Escrita Automática apresenta-nos uma vasta panóplia de opiniões sobre este
tipo de escrita com destaque, subjectivo é certo, para os depoimentos de Alberto
Pimenta, Cruzeiro Seixas que, aliás, apresenta um poema inédito de 1961 titulado «Pequeno poema a Angola», Fernando Cabral Martins, Manuel de Freitas
que não gosta do termo mas que ainda assim fala dele, Manuel da Silva Ramos,
Margarida Vale do Gato com um artigo extremamente interessante sobre escrita
automática em Kerouac e Withman entre outros, Maria Estela Guedes que a
encontra em Herberto Helder, Michael Löwy, Miguel de Carvalho ou Nuno Júdice
que optou por nos dar uma lição pedagógica sobre o tema. Mas são muitos os
depoimentos, mesmo daqueles que separam o automatismo psíquico da escrita
automática surrealista, apesar de toda a ideia contrária que a revista sugere e ainda que o
próprio Breton e os surrealistas o neguem! Mas o resultado do inquérito é
francamente bom.
Uma ressalva para as excelentes ilustrações que
acompanham a publicação e ao trabalho gráfico cuidado.
Mas deixemos a revista falar por si e através da arte da
colagem, do «détournement» se assim o entenderem:
Na página 30, André Breton explica, já como cadavre
exquis e com a condescendência para um só depoente que, lesto e impante,
apontava o seu dedo académico aos surrealistas afirmando que não foram estes os
«inventores» da escrita automática, disse Breton: «Em 1919, a minha atenção
tinha-se fixado sobre frases mais ou menos parciais que, em plena solidão, no
momento de adormecer, se tornam perceptíveis para o espírito sem que lhes seja
possível descobrir uma determinação prévia. Estas frases, notavelmente
imaginativas e duma sintaxe perfeitamente correcta, surgiram-me como materiais
poéticos de primeira qualidade. Esforcei-me antes de mais por retê-las. Foi só
um pouco mais tarde que Soupault e eu pensámos reproduzir de forma voluntária o
estado em que elas ocorriam. Bastava para tanto abstrair-nos do mundo exterior.
Foi desse modo que elas nos chegaram durante dois meses, cada vez mais
copiosas, sucedendo-se em catadupa, sem intervalo e com uma rapidez tal que foi
preciso recorrer a abreviações para as registarmos». Foi assim que se iniciou,
em 1922, a escrita de «Les Champs Magnétiques» e com ela o movimento
surrealista.
Mas é com a profunda análise de António Cândido Franco
em «Fluidos, Berlindes, Médiuns, Bolas de Cristal & Carvões – Do
automatismo psíquico surrealista» que a clareza das posições surrealistas
se tornam mais óbvias, tendo afirmado com toda razão que só existe a expressão
«escrita automática» porque Breton e Soupault eram poetas. Seria então mais
correto dizer-se «automatismo psíquico» visto que este abarca uma grande
amplitude de comunicação artística como a imagem, o desenho, o filme, a
pintura, o «ready made», a palavra, a colagem ou a junção de artefactos. Mais à
frente o autor afirma, clarificando igualmente algumas confusões já referidas
num depoimento em particular que nunca os surrealistas reivindicaram para si a
«invenção» da escrita automática, socorrendo-se por vezes do próprio Breton.
Diz António Cândido Franco: «O automatismo surrealista nasceu no âmbito da
experimentação dos processos mentais, como um modo próprio de análise
feito fora do âmbito hospitalar, mas baseado nos mesmos supostos de
auto-conhecimento e de terapia catártica. Por isso, o seu criador, André Breton,
sempre se negou a classificar o surrealismo como um movimento literário e
artístico, preferindo encará-lo como uma nova etapa humana em direcção a uma
maior e mais larga liberdade de consciência. O surrealismo tinha um âmbito
próprio de pesquisa, uma revolução autónoma a realizar, e não se podia confinar
à arte e à literatura.» (bold meu). Cândido Franco aclara mais à frente no
mesmo artigo: «O instrumento que o surrealismo colocou disposição de todos, o
automatismo mental, e que justificou o seu propósito da poesia passar a ser
feita por todos e qualquer um, naquilo que se chamou ‘’o comunismo do génio’’,
continua válido pois cada um de nós precisa de fazer a expedição às fontes
originais do espírito donde brota a criação e a liberdade para poder viver a
vida em plenitude». Entretanto, o
autor chama a atenção, igualmente, para um fenómeno contemporâneo poderosíssimo e que, este
que vos escreve, tem chamado a atenção sempre que pode pelo que tem de
realmente mau, de distopia. Leiam e meditem: «A tragédia da inteligência
artificial é a escravização do espírito, naquilo que este tem de
mais autêntico e que só no continente submerso da alma humana se pode encontrar
do mesmo modo que apenas na escura profundidade duma mina se pode colher uma
rama de oiro (…) no tempo da robótica é ele [o surrealismo] o primeiro a tocar
a rebate nos sinos da imaginação».
Já Michael Löwy, no seu artigo sobre «O marxismo libertário de
André Breton» faz-nos uma resenha com pormenores importantes da relação entre
Breton e Trotsky e à sua ligação sempre tensa até ao seu afastamento total do
Partido Comunista. Breton não desiste da liberdade e essencialmente da
liberdade de criar, para isso juntando-se aos anarquistas o que leva o velho Trostsky
a subscrever essa ideia no Segundo Manifesto Surrealista o mais
politicamente envolvido de todos os manifestos. A ideia é não abandonar os
princípios da Revolução de Outubro, mesmo que já traída e adulterada por
Estaline. O PC não lhe perdoará e temos o Komintern a adjectivar o surrealismo
de «materialismo gótico», de «marxismo romântico» como forma de o reduzir ou esvaziá-lo
de sentido. Os surrealistas proclamam então, o «reencantamento do mundo»
e a «recusa espontânea das condições de vida propostas aos seres humanos e a
necessidade imperiosa de mudá-las». Enquanto muitos ainda duvidavam, eles
cortam com o estalinismo em 1935, datas da maior repressão nos «processos de
Moscovo».
Três manifestos surrealistas inéditos em português acompanham
este número d’«A Ideia». Só por isto valeria a pena a sua rápida aquisição, ao
mesmo tempo que nos perguntamos qual a razão de só agora os conhecermos, quando a criação do Grupo Surrealista de Lisboa e, mais tarde, do Grupo
Dissidente de Cesariny, Cruzeiro Seixas e António Maria Lisboa entre
outros, datam desta precisa época! Mesmo nos Textos de Afirmação e Combate
do Surrealismo Mundial de 1977,de Cesariny, não consta alguma referência a estes
manifestos (re)fundadores e clarificadores do surrealismo. São textos de uma beleza
agressiva e de clara ruptura para com os PC, contra aqueles que
em 1947 achavam todos os alemães nazis, clarificadora para com os
pressupostos da revolução surrealista denunciando ao mesmo tempo a degenerescência
da ditadura do proletariado na ditadura de um só partido. Para eles, os
surrealistas, a revolução não se compadecia com a moral ou prática burguesas e
denunciavam quer a religião e, com ela, o cristianismo: «os marxistas deverão
deduzir que não se produziu nenhuma mudança significativa no domínio da
economia desde que Moisés foi chamado ao Monte Sinai», os costumes e a
moral «A sua confiança na perfectibilidade do percurso humano é, hoje, como
ontem, o prolegómeno que diminui o espectáculo desolador do mundo» e, ainda em 1947, proclamavam: «O sonho e a revolução
foram feitos para se associarem, não para se excluírem. Sonhar com a
Revolução não é renunciar-lhe, mas sim fazê-lo duplamente e sem qualquer
reserva mental». Portugueses presentes nesta magna assembleia surrealista
foram Cândido Costa Pinto e António Dacosta. Sabe-se que foi o primeiro a dar a
Cesariny os contactos com André Breton que aquele aproveitou para se encontrar com ele pelo menos duas vezes.
Manuela Parreira da Silva faz um excelente retrato de Pessoa
mediúnico cujo automatismo na escrita (principalmente no ortónimo e em Caeiro)
nada teriam a ver com o automatismo surrealista tal como estes o entendem. É
provável que Pessoa desdenhasse os surrealistas e principalmente os dadaístas. Pelo
menos esta investigadora data esse conhecimento de 1917 e talvez este conhecesse bem
Apollinaire que, como sabemos, foi colaborador em vida dos surrealistas aquando da
apresentação de Les Mamelles de Tirésias, drame surréaliste en deux actes et
un prologue. Mas Soupault, que esteve com Pessoa em duas ocasiões em Lisboa, não lhe
foi muito simpático, ligando-o a um porto branco e a um sorriso
associado! De qualquer maneira, somos levados a concluir que Pessoa, em certos
aspectos, não se afasta dos surrealistas pese embora aquele modo mediúnico de
conquistar o sonho que o separava destes. Pessoa e Freud seriam incompatíveis. Mesmo Cesariny, mais tarde, acaba por
reconhecer a importância de Pessoa, mesmo que as suas loas fossem dirigidas, e muito bem, para Teixeira de Pascoaes.
Quem adquirir a revista não deixe de ler «Abjeccionismo & Automatismo» de Rui Sousa. Aqui entra-se em outra dimensão que é o muito
português abjeccionismo, embora Rui Sousa em tese que está a preparar o coloque
mais internacionalizado, digamos assim. A questão coloca-se: será o
abjeccionismo uma deriva portuguesa do surrealismo? Teríamos então como
representantes dessa corrente um Raúl Brandão, Gomes Leal, algum Orpheu, Luiz
Pacheco, Ernesto Sampaio, António José Forte e o não menos importante Pedro Oom.
Já de fora teríamos um outro tipo de abjeccionismo: Artaud, Bataille, Kristeva. Mas há
um nome verdadeiramente esquecido hoje e que se sobrepõe que é o de António Maria Lisboa e a sua
Metaciência, esse novo humanismo que ultrapassa a racionalidade e procura a
consciência individual, onírica e verdadeiramente livre.
Centenário outro, desta vez o da criação, por Leonardo
Coimbra, da primeira Faculdade de Letras do Porto, livre e libertária,
que a ditadura fechou denunciada (não há outro termo) pela Faculdade de Letras
de Coimbra (cidade/universidade/prostíbulo salazarista dos anos 30)
denominando-a «Faculdade das Tretas do Porto». Agostinho da Silva foi seu aluno
antes do seu exílio.
Uma pessoa até se encontra a ler «A Ideia» com grande
concentração e aparece-nos vindo sei lá de onde um texto sofrível e mesquinho
de Stefan Zweig sobre Verlaine. Já li coisas más, mas esta ultrapassa, em
muito, alguns textos maus de pessoas más para quem dizer mal de pessoas que não
se podem defender é um mal necessário para elas. Uma chusma de males. Que coisa
insuportável! Ele, Zweig, refugiado judeu no Brasil e EUA, nunca atacando
directamente os nazis porque as suas críticas poderiam originar mais mortes
(!!!) tem a veleidade de apontar o dedo à «participação oportunista» junto com
a anarquista Louise Michel na Comuna de Paris! Leiam agora este pedaço sobre
Verlaine: «O espírito feminino comete muitas vezes o erro de confundir o
comovente com o que é grande: se a vida de Verlaine pode ser qualificada de
trágica e de profundamente perturbante, seria abusivo querer fazer desta chama
vacilante que se apaga uma obra de arte, uma tragédia biográfica». Espírito
feminino? Mais à frente: «Em casa de uma amigo [Verlaine] conhece uma rapariga,
Matilde Mauté, 16 anos, graciosa, loura delicada, a encarnação da inocência e
da pureza [ai, ai, Zweig! Onde pairava a tua alma enquanto escreveste estas
linhas?]. O jovem Verlaine, feio com um bugio (sic), tímido e lascivo, um
romântico que encontra as suas efémeras aventuras venais à esquina da rua (sic)
com a ajuda de um copo de vinho, vê de repente a alva menina, a santa [alva e
santa, que se pode mais querer senão cair nas garras de um bugio, ó Zweig?],
aquela que lhe pode trazer a salvação [e nós a pensar que era o copo de
vinho!]. Pela vossa saúde não vos conto mais. Ele não foi um nobelizado? Ora
tomem…
Acabamos com Anselm Jappe com «Reflorestar a Imaginação»
com um estudo rigoroso sobre a mudança do trabalho concreto para o
trabalho abstracto nos dias de hoje. «É por isso que a sociedade moderna é
uma sociedade baseada no contínuo aumento de trabalho, um aumento tautológico
do mesmo. Não se trabalha para satisfazer uma necessidade, e logo repousar em
sossego, senão que se trabalha para se poder trabalhar ainda mais» ou «Foi
sobretudo a tradição poética francesa, primeiro com Baudelaire e mais tarde com
os dadaístas, surrealista e outros, que se opôs à sociedade do trabalho – e também
a nível prático. A outra grande excepção foi William Morris, que podemos
considerar um marxista e que também impugnou de forma admirável o trabalho».
Finalizemos (ou iniciaremos, é convosco) a leitura deste excelente número da revista com Jappe:
«As tecnologias não criam valor, não acrescentam novo
valor»
«Antes de mais precisamos de nos deixar de identificar
com o papel de consumidor, do trabalhador, do cidadão, do eleitor. Hoje as
novas exigências humanas só podem impor-se contra essas categorias. Os
movimentos sociais devem insistir em que todos temos o direito a viver mesmo
não conseguindo vender a nossa força de trabalho, mesmo não encontrando para
ela nenhum comprador».
Pedidos a
acvcf@uevora.pt
ou António Cândido Franco / Rua celestino David, nº13-C, 7005-389 Évora
António Luís Catarino
Coimbra 2 de julho de 2020