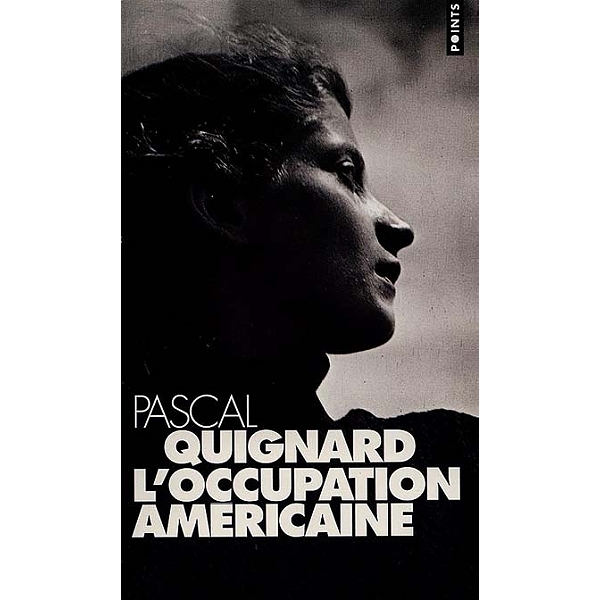Gostava, antes de vos descrever sucintamente a obra e tendo o cuidado de não revelar tudo, que estivesse na cabeça do censor que proibiu este livro. Infelizmente, Portugal teve essa experiência notável de ver coronéis na reforma a censurar obras sem entenderem nada do que liam. Muitos autores portugueses sabem pelo que passaram, não sem que alguns casos fosse motivo de riso, tal como um livreiro que me contou que uma brigada da PIDE acompanhada por um desses coronéis, levou apreendidas «A Capital» de Eça de Queirós e um manual das antigas escolas técnicas e industriais para a construção civil titulado de «Novas Estruturas do Betão Armado»!! Consigo perceber o censor: «’pera aí! ‘’Novas Estruturas’’? ‘’Armado’’? Querem enganar quem?».
Mas este censor de «Uma Solidão Demasiado Ruidosa» deveria ser muito rebuscado. A história trata de um prensador de papel (Bohumil Hrabal, certamente) que vai salvando livros do ostracismo absoluto a que o Estado quer remetê-los. O velho Haňta é conscensioso do seu trabalho, embora esconda o que faz. Não tem mal nenhum: salva Kant, Hegel, Camus, Novalis e Lao-Tsé, entre outros, muitos outros. É Haňta que diz: «(...) de modo que é em vão que todos os inquisidores do mundo queimam livros, pois quando um deles contém algo de válido, o seu riso silencioso persiste mesmo no meio das chamas, porque o significado de um livro verdadeiro vai sempre para além dele.».
Ou a sua declaração inicial: «Há trinta e cinco anos que embalo livros e papel velho, e vivo num país que sabe ler e escrever há quinze gerações; habito um antigo reino onde houve e continua a haver o hábito e a obsessão de prensar pacientemente ideias e imagens na cabeça de todos, dando-lhes assim um prazer indescritível e uma mágoa ainda maior, vivo entre pessoas que dariam a própria vida por um pacote de ideias prensadas.»
Ou a sua declaração inicial: «Há trinta e cinco anos que embalo livros e papel velho, e vivo num país que sabe ler e escrever há quinze gerações; habito um antigo reino onde houve e continua a haver o hábito e a obsessão de prensar pacientemente ideias e imagens na cabeça de todos, dando-lhes assim um prazer indescritível e uma mágoa ainda maior, vivo entre pessoas que dariam a própria vida por um pacote de ideias prensadas.»
Haňta, vivia para prensar, esmagar e com esta atividade esmagava igualmente ratos da velha oficina, besouros, insetos vários... a namorada tinha sido cremada em Majdanek ou Auschwitz e ele começou a beber muita cerveja. Era um solitário, tendo dificuldade em falar com pessoas, menos com uma pequena cigana que compartilhava o seu apartamento coberto perigosamente de várias toneladas de livros, prestes a esboroarem-se em cima dele e matá-lo. Todos salvos da prensa. Mas o que lhe dava mais prazer era esmagar e prensar livros e fotografias de Hitler em delírio, de soldados SS em delírio, de prisioneiros em delírio, de guardas em delírio, de massas de homens castanhos em delírio.
Por que foi censurado Bohumil Hrabal? Que mal tinha o seu livro? Como gostava eu de me colocar no «pensamento» (um exagero, claro) de um censor! O que ele veria escondidas nestas palavras?
Haňta vê-se então confrontado com o seu censor, mesmo que assuma a dialética como lógica: «(...) e tudo o que é vivo no mundo, para que, através da luta, o movimento vital recupere; depois, o desejo de equilibrar os contrários leva a que se atinja progressivamente a harmonia e a que o mundo, no seu todo, nunca coxeie. Foi então que compreendi a justeza do poema de Rimbaud segundo o qual a luta do espírito é tão terrível como qualquer outra guerra, e entendi a frase cruel de Cristo: ‘’Não vim trazer a paz, mas a espada.»
Belas palavras do velho Haňta. O censor ter-se-á incomodado com a palavra Cristo? Com a dialética exposta? Com Rimbaud? Com a recupearção «movimento vital»?
Creio que sim, foi esta a expressão, «movimento vital» que lhe fez o curto-circuito no frágil cérebro do censor. De qualquer censor em que o pensamento pode tornar-se um perigo mortal. Eles preferem a morte.
António Luís Catarino
Coimbra, 27 de janeiro de 2020