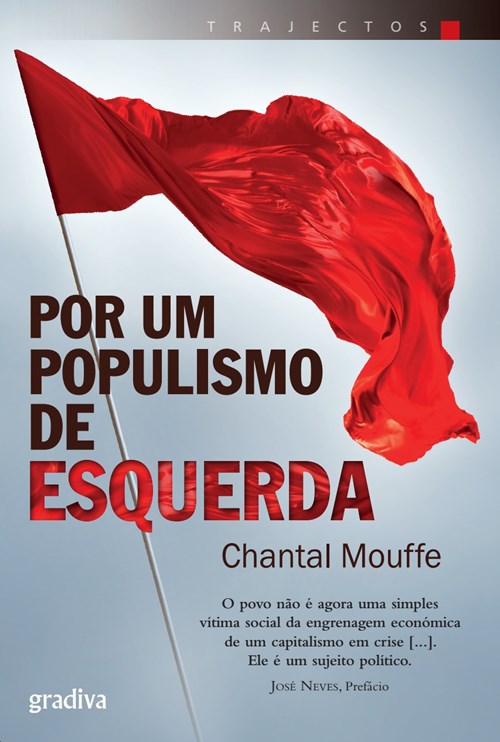
Não se admirem com o título. Chantal Mouffe defende mesmo
isso no seu livro Por um populismo de esquerda (Gradiva, 2019). José Neves, que
leio sempre com agrado, prefaciou-o não sem, contudo, nos avisar que num
momento de aumento do populismo de extrema-direita e de direita nacionalista
esta hipótese não deve ser descartada pela esquerda. Neste campo, tal como a
autora, coloca o Die Linke, o Podemos, o
Syrisa, o Bloco de Esquerda, La France Insoumise de Mélenchon e Jeremy Corbin do Labour (lá mais para a frente, Chantal
Mouffe cita igualmente Bernie Sanders)
como um exemplo de uma identidade populista de esquerda. Sintomático é referir
que a autora, só de raspão, analisa os regimes populistas da América do Sul que
poderão, com algum esforço, ser considerados de «esquerda».
Não sei se é forçado colocar alguns destes partidos
referidos atrás na área «populista de esquerda». Comecemos por analisar o
conceito de «populismo». Um partido populista é definido pela sua demagogia,
pelo carisma de um chefe ou líder, e promove um conjunto de propostas demasiado
fáceis de entender pelo «povo». No fundo propõe o que se quer ouvir pelos
descontentes. Utiliza igualmente uma linguagem simples, rasteira, contra as
«elites» e utiliza a propaganda e os media com as suas «verdades irrefutáveis»,
mesmo que estas não se possam provar.
Chantal Mouffe (C.M.) diz-se gramsciana. Vai a Antonio Gramsci
encontrar os argumentos para propôr a construção de um populismo de esquerda
contraposto ao populismo de direita e de extrema-direita. Refuta o que ela
chama de «essencialismo» na área da
esquerda, reconhecendo nesse tal essencialismo um obstáculo sério à refundação
da esquerda visto que esta se encontra amarrada a conceitos rígidos de «classe»
e de uma suposta luta entre «capital e trabalho». Inclui-se no pós-marxismo. A
Gramsci vai «captar a multiplicidade de formas de combate a diferentes tipos de
dominação». C.M. redefine este projecto como de «radicalização da democracia» perante a existência de uma «cadeia de equivalências» numa sociedade
plural que articulasse as exigências da classe trabalhadora com os novos (já não são assim tão novos, digo eu) movimentos sociais emergentes de modo a
realizar um «querer comum» processo que desembocaria numa «hegemonia expansiva», sendo que esta última expressão é de Antonio
Gramsci, de novo. O povo passaria
então a ser um sujeito político.
Nada a opor, se não a sua inexequibilidade. Um dos
companheiros de C.M. foi Ernesto Laclau que define populismo como a construção
de uma barreira entre dois campos: os «miseráveis» e «os que estão no poder».
Recusa a ideologia. Aponta para a construção de um regime político que pode
assumir variadas formas e com vários enquadramentos sociais. Não pormenoriza ou
exemplifica, nem C.M. se dá ao trabalho de o fazer.
Depois de elaborar um historial da vitória do neoliberalismo agressivo de Tatcher dos anos 80, tenta conjugar vários filófosos citando Habermas,
Crouch, Rancière e Carl Schmitt (sem dizer donde este vem e que filósofo e
jurista foi e ao serviço de quem!) que opõe
democracia ao liberalismo e a possibilidade de uma oposição entre igualdade e
liberdade. Aqui vem o populismo proposto: a diferença entre «nós» e «eles» que deve ser o alfa e ómega de
toda a actividade do populismo de esquerda. Creio que Mouffe tem razão ao
apresentar a raíz da radicalização da esquerda nos anos 90 e princípio do
século XXI naquilo a que chama de «movimento das praças» onde coloca o Occuppy, os Indignados de
Espanha e as múltiplas manifestações de protesto que assolaram toda a Europa.
Agora o que vem depois, as perspectivas que coloca aos movimentos sociais e aos
partidos da esquerda é o mais problemático. Mas, por defeito, não
descartemos a hipótese que ela propõe: diálogo
com os movimentos populistas de direita de modo a influenciar os apoiantes que
embora incomodados com a presença da extrema-direita, estarão lá só pelos protestos quase sempre legítimos. Apresenta números com Corbyn a chamar gente do UKIP para o Labour e
Meléchon a retirar perto de 16% de votos directamente à FN de Le Pen.
Penso que aqui tocou na ferida dos «essencialistas» pelo que
explica adiante as «diferenças» destes populismos, os de direita e os de esquerda.
Os primeiros, têm o sentido de
nacionalismo, da identidade, da força e são claramente neoliberais, talvez mais
agressivos que os ditos liberais, eles mesmos. Não acreditam na igualdade e são
ferozmente individualistas. O populismo
de esquerda traduz-se num aprofundamento e alargamento da democracia
radical, que recusa ser directa, por sorteio (David van Reybrouk defende o sorteio contra as eleições num livro que me veio parar às mãos e citado pela autora) ou somente representativa, embora
reconheça um papel importante a esta última. O que ela chama de um programa
«agónico» (ou marcial e heróico?) não será mais do que a construção de um
«povo» que entende o seu inimigo como a «oligarquia». Não rejeita traços
afectivos (?) de nacionalismo, nem uma liderança, bem diferente de um chefe ou
de um líder incontestado. Para isso não
poderemos contar só com a classe trabalhadora. Temos de contar com uma «cadeia de equivalências» sempre em
contacto plural com o movimento LGBTI, feministas, imigrantes, classe média em
situação precária, movimentos ambientalistas e ecologistas, etc. O objectivo é
criar uma situação que leve a uma «nova
hegemonia que permita a radicalização da democracia».
Insurreição e revolução são alternativas fora do baralho de
Chantal Mouffe. Afirma não precisar, a esquerda, de um corte revolucionário, mas sim de uma
espécie de dètournement do regime
liberal-democrático! Portanto, os dados estão lançados: trata-se de aprofundar
uma «democracia radical e plural», influenciando e transformando as
instituições democráticas existentes.
C.M. defende que, para atingir a formação hegemónica do
populismo de esquerda, dever-se-á colocar
em causa o campo económico «essencialista». Junta a esse campo a natureza
cultural, política e jurídica, numa articulação de «senso comum» no quadro
normativo de uma dada sociedade. Nem mais! ... Venha daí o «senso comum» para
ajudar à festa! E eu que pensava num esqueleto jurídico forte que evitasse esse
senso comum, expressão tão liberal que é. Ora, recusando a extrema-esquerda
(ainda há pouco uma polémica no Bloco de Esquerda levantou-se quando Catarina
Martins, numa entrevista, recusou esta matriz para o Bloco, substituindo-o por
«radical») Chantal Mouffe apresenta-nos três
tipos de política à esquerda:
«Reformismo puro»
que aceita os princípios da formação social neoliberal.
«Reformismo Radical»
que aceitando os princípios da ordem liberal, procura pôr em prática uma
formação diferente.
«Política
revolucionária» que exige uma ruptura total com a ordem social e política
existente. São os nefastos marxistas-leninistas-trotskistas, bem como os
anarquistas.
Como já devem ter reparado a autora pertence à segunda opção
enquanto que os outros são os essencialistas (mesmo os que defendem hoje os
princípios fundadores da social-democracia) que recusam ver o Estado como um campo neutro como os
reformistas radicais o querem construir. Ou seja, o objectivo não é tomar o poder do Estado como diz Marx,
mas «tornar-se Estado» como ela diz
que disse Gramsci (em que conjuntura, pergunto eu?).
Reivindica, a autora, uma dimensão de luta anticapitalista, mas não dá essa hegemonia à classe
trabalhadora. Hoje, segundo C.M. (e eu concordo) há cada vez mais um discurso
anticapitalista em vastos sectores da população, mas não necessariamente de
esquerda. Se assim é, só o reformismo radical está em condições de o captar. O
que eu não consigo concordar é a aparente desvalorização do trabalho que parece
emergir aqui.
Finalizando: depois de Marx,
Bakunine, levarem das boas neste livro, nem Hardt e Negri estão a salvo. Defendendo a democracia
representativa, Chantal Mouffe, ataca estes últimos autores por causa da sua
estratégia de renúncia, deserção e êxodo
para que se crie uma alternativa anticapitalista com a inevitabilidade de tomar
o poder com uma imensa multidão (os 99%?) e apta a conquistar os meios de
produção. É lógico, que tanto Hardt como Negri defendem a estratégia do «comum» que não existe em nenhuma
Constituição iluminista. A propriedade ou é privada, pública, cooperativa, mas
«comum» está quieto!... Mouffe chega ao ponto de não rejeitar os partidos
políticos e os parlamentos actuais que ainda desempenham, com todas as
maleitas, um papel simbólico. Pergunta-se, humildemente, de quê? Conclui,
Chantal Mouffe, afirmando entre outras coisas, a inadequação da palavra «comum»
e a crítica à crítica da democracia parlamentar, ainda fogosa, não fossem os
reformistas radicais propor torná-la ainda mais representativa.
António Luís Catarino
12 de julho de 2019