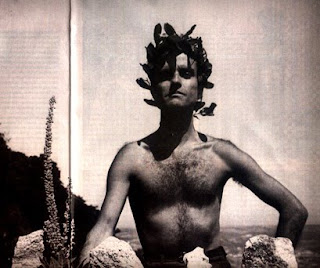
«Ó Portugal, se fosses só três sílabas/linda vista para o
mar…». Alexandre O’Neill. Este homem, este poeta, desnudado das palavras a quem
atribuía o epíteto de «animais doentes» pela constante tentativa de as tornarem
«bonitinhas», tinha o condão da cumplicidade com o leitor. Mesmo quem nunca o
leu repete-lhe os estribilhos ou versos com que denunciou este país feito de
pessoas importantes, lídimas corredoras de carreiras assentes no «respeitinho»
e em «deuses e deusecos» omnipresentes e servis: «País engravatado todo o ano/e
a assoar-se na gravata por engano». Estou a falar da expressão «vidinha» com
que nos abanou as consciências monótonas de um país alienado e anestesiado «A
poesia é vida? Pois claro!/Conforme a vida que se tem o verbo vem/ - e se a
vida é vidinha, já não há poesia/ que resista». Alexandre O’Neill tinha
ascendência irlandesa de um foragido do século XVIII, sabe-se lá de quê, e que
veio desgraçadamente aportar a Lisboa. Portanto, O’Neill lisboeta, crítico do
provincianismo capital, de «ombro na ombreira» como quem espera, um dia
qualquer, sair da sombra da porta, dar o ombro aos outros e criar a vida
poética verdadeiramente livre «Quando tudo escombro/ ainda todos seremos/ombro
na ombreira» e que o levou a excessos em que, disse, «fez do corpo uma alavanca
para o mundo, sem pensar no futuro». Inventou a vida, ultrapassou o quotidiano
repressivo, amou intempestivo, morreu novo. Cá o temos, a alavanca da escrita
que o levou a fundar o Grupo Surrealista de Lisboa em 1947. Saiu de lá logo no
ano seguinte porque António Pedro, ministro salazarista sabidão, expôs os
surrealistas num salão não sem antes aceitar o lápis azul da Censura. O’Neill,
parte para outra, e, nos Cadernos Surrealistas, edita Ampola Miraculosa. Tem a sua Nadja, o seu amor louco com Nora
Mitrani, surrealista francesa. A polícia política e a família impendem-no de se
lhe juntar em Paris. Não mais a vê. Acede, cuidadoso, aos neorrealistas,
cansado do convívio com «fantasmas», sem que se lhe conheça militância ativa.
Traduz Ubu de Jarry, Brecht. Escreve nos jornais. Colabora em teatro e cinema. Encontra
em Tolentino, Cesário Verde, Pascoaes (que chegou a conhecer escrevendo-lhe uma
«Recordação Precipitada»), Álvaro de Campos, uma influência a que não foge,
como aceita a fórmula para si próprio de um «grande poeta menor». À questão que
lhe é colocada em 1962 de qual seria o seu defeito ele responde: «sentir o
desencanto». Para um poeta perder o encanto do mundo é perder igualmente o dom
das palavras e da vida. Não o perdeu. Portugal para ele continuou a sua Feira Cabisbaixa de 1965: «…Feira
cabisbaixa, meu remorso,/ meu remorso de todos nós».
António Luís Catarino 30/09/2017