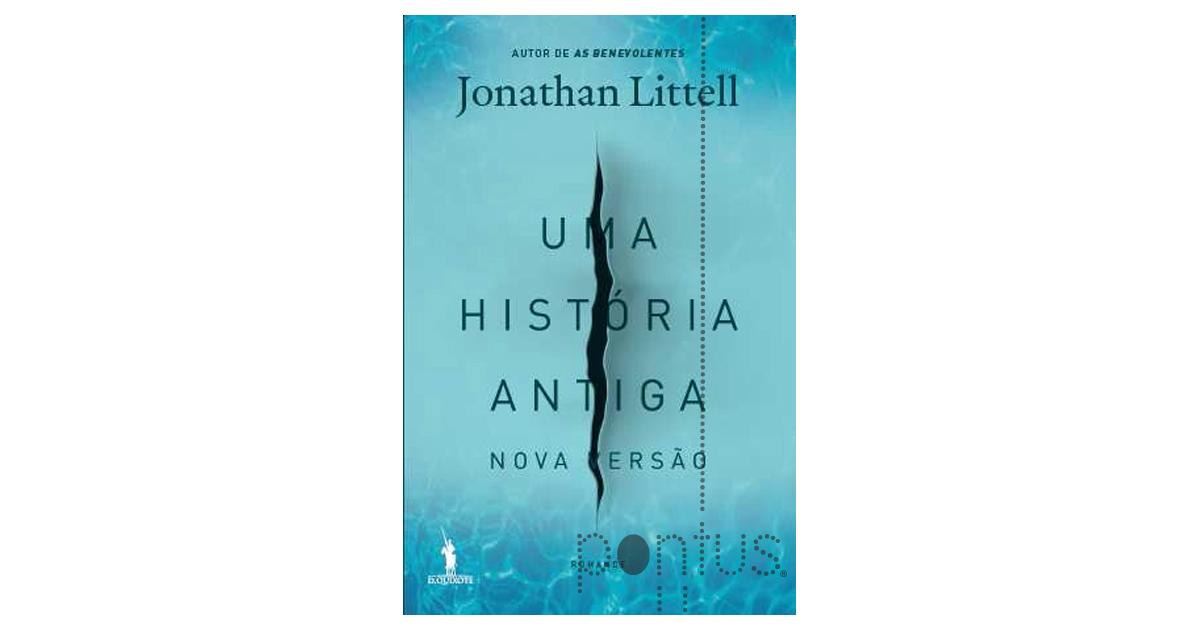Foto: Letra Livre e Mapa
O final do
título poderia ser um «divertamo-nos todos enquanto isto dá», «carpe diem», «que se lixe, já cá não viverei nesse tempo»...e mais, e mais... dando à vox populi a razão suprema de andar de
mãos dadas com o capitalismo, principal responsável do que aí vem, não fosse
hoje o mundo um enorme esgoto em que o tornou. Ar, terra, mar poluídos e sempre
a eterna esperança que a sacrossanta tecnologia nos salve do colapso.
Por isso ler
o livro de Carlos Taibo, «Colapso – Capitalismo terminal, transição ecossocial,
ecofascismo» editado oportunamente pela editora/livraria independente Letra Livre,
faz-nos pensar (ou dos poucos que se esforçam por pensar), enquanto ser humanos
do ainda Holoceno o que fizemos, ou melhor, o que deixámos fazer a este planeta
Terra.
Primeiro
choque: as notas de rodapé e a bibliografia do autor. Inegavelmente importantes estas notas de carácter científico, admiramo-nos na leitura e pesquisa que delas
fazemos de algumas ideias que o autor sublinha, com cuidado e rigor, venham desde a
década de 50! Ou seja, a preocupação por esta eutanásia dolorosa do Planeta vem
desde muito cedo. Talvez mesmo do século XIX, razão pela qual a Revolução
Industrial foi o início da crise do planeta pelo que não será exagerado ou
eivado de falsidade a afirmação que a acumulação de capital e o imperialismo
foi a causa última do início da decadência climática e ecológica.
No capítulo
I, Carlos Taibo apresenta-nos o conceito de colapso. Talvez o mais interessante
do livro seja esta questão. Já assistimos, durante a História, a vários
colapsos: a queda dos impérios egípcios e hititas, a do Império Romano com o
avanço do que chamamos (mal) de povos bárbaros do oriente muito possivelmente a
períodos longos invernosos e verões húmidos e chuvosos, a Peste Negra que
varreu da face da Europa três quartos da sua população, e, já mais para os
tempos modernos as invasões napoleónicas, a guerra franco-prussiana e as guerras liberais, a I e II Guerras Mundiais com o seu
cortejo de milhões de refugiados e de 150 milhões de mortos. Já para não falar
da bomba nuclear usada pelos americanos no Japão, na paranóia e o medo
permanentes que coisa igual se repita. A Humanidade enfrentou com a adaptação possível viver nessas condições. Embora em colapso.
O conceito
de colapso é, também ele, muito variável. Carlos Taibo dá-nos vários exemplos: um
vulcão na Islândia nos anos 90 permitiu que, durante 10 dias, os sistemas
eléctricos e electrónicos baqueassem totalmente, as rotas de aviação e
rodoviárias parassem, a internet funcionasse intermitentemente e que deixassem
de existir as trocas de informação, de mercadorias e as bolsas mundiais praticamente não
funcionassem. Não se contam aqui os milhares de mortos directos e indirectos da
erupção vulcânica e os hospitais a trabalharem sem todos os equipamentos a
funcionar. Mas isto aconteceu no Norte rico. Agora tentem falar em colapso a um
habitante da faixa de Gaza, da Nigéria, da Síria ou do Iraque! É evidente que
esta gente nasceu e já morreu em constante colapso. Sem água, sem luz eléctrica
ou sem os cuidados básicos inerentes à sobrevivência, nem digo à vida, porque
ela simplesmente não existe. No sul há povos em eterna ruptura, sem instituições, sem dinheiro, sem ajudas. Não perceberão o conceito de colapso, assim como
se diz que o Norte colapsou porque se tornou impossível viver sem a TV ou sem
rede de telemóvel pela erupção de um vulcão!
Passando a
necessidade epistemológica de Taibo (professor de Ciência Política na
Universidade Autónoma de Madrid e com bibliografia editada) em explicar o
conceito de colapso ao estudar as suas possíveis causas (tão óbvias que não vale a pena reproduzir aqui), desenvolve cenários pós-colapso
extremamente audazes, mas com todas as possibilidades em aberto. É o melhor do livro.
Isto tanto
pode acabar mal com um ecofascismo ou com a extinção total (o que não acredito, nem o autor), como até pode abrir espaços de liberdade
comunitários que não devemos rejeitar como hipótese real, ou ainda mais real
coexistirem em luta contínua as duas formas de vida, uma nova luta de classes
baseada na teoria de Marx, com o desaparecimento traumático da classe média, do
dinheiro e das mercadorias. Imaginemos uma enorme ruptura no campo das energias
não renováveis, como aconteceu na URSS em 91 ou em Cuba ou na Venezuela ainda
hoje e agora projectem-nas a nível global. Na Rússia tudo se transformou num enorme caos financeiro (de que se
aproveitaram alguns oligarcas), na inoperância e desaparecimento do Estado que acabou com os apoios
sociais e as reformas, o dinheiro acabou pela queda total do rublo e as
mercadorias deixaram de circular. Nunca divulgados pelos media, houve
comunidades inteiras que sobreviveram no campo, abandonando as cidades e
criando comunidades fortes com democracia directa. Em Cuba, o embargo de
petróleo dos EUA, levou a que tivesse importado um enorme volume de bicicletas
à China, criando hortas urbanas e criando fortes comunidades no campo. A emissão de
CO2 teve uma queda de 26,6%. Na Venezuela, a crise ainda não chegou ao colapso
porque as reservas deste país ainda são fortes, mas a contínua baixa de preço
do crude e o embargo nas exportações faz com que estas reservas estejam
paradas. A necessidade de autoregulação e autogestão longe do poder, tem sido
uma prioridade que tem resultado prescindindo de intermediários especuladores e
indo à produção directa. Não rejeitemos portanto a necessidade da partilha comum da energia e da própria vida.
Portanto, as
coisas não são fáceis de decifrar para um futuro que será tão distópico como
utópico. Certezas: nunca iremos alcançar o objectivo de fixação de 2º em 2030.
As emissões de CO2 têm aumentado como se fosse uma espécie de estertor do capitalismo que se pode tornar letal, mais do que é hoje. A ONU está descapitalizada e não poderá intervir, assim como a Unicef, ou a Fao.
Em 2030 atingiremos, a este ritmo de emissões, os 4º graus o que produzirá
uma temperatura amena na Europa do Sul, uma vida impossível na zona sul do
planeta que originará grandes migrações para norte como aliás já acontece por
motivos climáticos a que a guerra estará ligada, o norte da Europa e dos EUA e
Canadá descerão de temperatura, principalmente nas regiões influenciadas pela
corrente do Golfo que está a desaparecer, enquanto paradoxalmente os gelos do Árctico desaparecerão,
abrindo uma corrida às explorações petrolíferas desta região e adiando talvez
por mais vinte anos o fim da energia petrolífera. A energia está a esgotar-se.
Vai esgotar-se.
Assim, as
possibilidades são múltiplas. Ou arranjamos um modo de vida realmente possível
de ser vivida, ou viveremos em cidades sem ordem, violentas, onde grupos
criminosos e polícias privados (qual a diferença?) mandam a soldo de oligarcas
que se pretendem ser uma elite que viverá condicionada a bolhas muralhadas.
Entre a base
proudhoniana de comunidade que parece que Taibo abraça, a luta de classes mais
aguerrida que nunca, de Marx que o autor também não rejeita, o ecofascismo, ou ainda violenta junção dos dois modelos, as hipóteses são múltiplas. Alguma
ganhará. Um apontamento: o ecofascismo que já conhecemos de outras histórias do
século XX (o fascismo e o nazismo eram ecológicos, criando até dias e jornadas
de defesa da Natureza) pode não ter origem nestes novos pequenos partidos que
têm nascido um pouco por toda a parte. O ecofascismo pode ser adoptado pelos
partidos do sistemas e tradicionais, obrigando-nos a comportamentos ecológicos, leis severas para
quem não cumpre, culpabilizando o infractor particular e, pior, separar o que
não é «normal» na Natureza, pelo receio do outro numa época de grandes
migrações mundiais. Isto é o ecofascismo. Separar o bom do mau na Natureza pode levar a uma higienização nazi nas pessoas de diferentes etnias, proibindo-as de entrar em terras «limpas».
Caso último
que nos fará pensar: um elemento do Grupo de Bilderberg, Susan George, deixou passar uma
resolução da sua última reunião. Para que o Holoceno não desapareça e voltemos
à situação de antes da Revolução Industrial, será preciso que a população na
Terra seja de somente 600 milhões de pessoas. Hoje, somos 7 mil milhões. O programa é de «redução drástica da população». Que
terão eles na cabeça para chegar a estas conclusões? Mais epidemias
devastadoras como a SIDA e o Ébola, milhares de vezes mais mortíferas? Ou a guerra permanente, sem fim? Também no horror as hipóteses estão em aberto. O que Carlos Taibo nos dá, em contrapartida, é uma luta para uma sociedade solidária, energeticamente sustentável e local. Não estarão longe as opções que teremos de tomar.
António Luís Catarino
Coimbra, 20 de Outubro de 2019