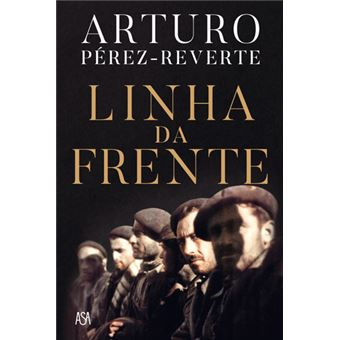Asa, 2022, Tradução de Cristina Rodriguez e Artur Guerra. 624pp
Não é qualquer um que escreve sobre guerra. Principalmente, sobre a Guerra Civil de Espanha e mantendo uma auréola de neutralidade absolutamente incongruente e incómoda para quem lê e que espera uma outra narrativa que não um insípido distanciamento sobre o confronto entre fascistas e republicanos, fossem estes últimos das várias tendências que na ocasião existiram. Os fascistas também tinham as suas, mas isso era questão de pormenor. Para eles Pátria, Deus e Família chegava como programa e matarem todos os vermelhos e anarquistas que lhes aparecessem pela frente, também. Mas a neutralidade de Reverte possivelmente deu-lhe o Prémio da Crítica Espanhola por este livro Parabéns ao homem, porque o livro não o merecia.
Falemos da guerra em si, desse estertor humano, o pior que a Humanidade pode mostrar de si própria. Pois bem, não exigimos que quem se propõe a descrevê-la e editar um livro sobre ela seja um Tolstoi, mas o mínimo dos mínimos é que tenha uma noção clara ou aproximada dos mecanismos psicológicos de quem participa nela. Do terror, do medo permanente, da vingança e da entreajuda, da luta entre os oficiais e dos soldados, dos soldados entre si, ou seja, tudo o que leve à desgraçada opção da vida e da morte. Toda a descrição da guerra, neste caso numa povoação catalã, numa margem do Ebro onde se deu uma das maiores batalhas da Guerra Civil, pode ser mantida numa toada que terá de tudo menos leveza. Aquilo que me parece é que lhe falta densidade psicológica às personagens, enquanto é reproduzido um gigantesco catálogo de armas, tanques, aviões, morteiros, toda uma panóplia de artefactos de morte, acompanhada das respectivas onomatopeias quando explodem ou são disparadas. Os diálogos são profícuos, talvez para dar esse cunho de leveza à leitura que poderiam ser perfeitamente dispensados. Alguns deles nem se compreendem porque lá estão. Não explicam, não projectam nada de novo, não reflectem o passado sequer. Tudo aqui é mecânico. Não são só os diálogos, mas as próprias personagens. Poderia ser a Inteligência Artificial a criá-las e os leitores mascarem uma chiclete que ia dar tudo ao mesmo.
Por outro lado, não creio que a neutralidade seja chamada para aqui. A Guerra Civil de Espanha é ainda demasiado recente, para nos esquecermos, ou fingirmos esquecer, quem foram os criminosos, os que se sublevaram contra uma república democrática, que embora não tenha conseguido sequer cumprir o seu programa social, foi eleita democraticamente. A neutralidade de que falo aqui é, possivelmente, o resultado de um jornalista de guerra que foi Reverte, mas na literatura não é assim que funciona. Queremos uma realidade, que pode até doer, mas uma experiência viva de um dos lados. Se assim não for, cai-se no risco, que acontece várias vezes neste livro, de fugir a narrativa para o deslumbramento de um «Arriba Espanha!» devido à «coragem» dos falangistas, do Tércio, ou dos legionários. Esses, ao menos, rezavam antes das batalhas, tinham farda, eram disciplinados e sabiam porque morriam, enquanto os «vermelhos», esse bando de mal-arranjados, poeirentos e sujos, vestindo à civil ou pondo sempre em causa as decisões do comando-geral republicano, consequência nefasta da luta de classes, claro, morriam para escavacar a ordem social estabelecida. Pois é. A neutralidade cai pela base e fica o rabo de fora. Mais a mais, essa disciplina nestes últimos, aparece por obra e graça de comissários políticos russos, de olhos azuis «frios como os olhos de um peixe», que metralham os que tivessem a ousadia de recuar do campo de batalha. A IV Brigada do Ebro, é tratada como um covil de marxistas, trotskistas, poumistas e anarquistas sem disciplina e quase sempre derrotadas por culpa própria. As Brigadas Internacionais idem. Conclusão de Reverte: os espanhóis, sejam fascistas ou comunistas, sabem lutar e não seria preciso um Hemingway «vir aqui, com arrogância, ensinar os espanhóis a combater».
Volta-se a referir que não escreve sobre guerra quem quer, mesmo tratando-se de um jornalista habituado a ela. É necessário mais do que isso. Está a quilómetros de distância de um Johnatan Littell, de um Victor Serge, de um Céline ou de um Vassili Grossman. Para só citar alguns de memória.
Só uma questão sobre a tradução: os «Paseos» são tristemente conhecidos durante a Guerra Civil de Espanha. Os fascistas iam de porta em porta nas pequenas aldeias e vilas à procura de republicanos e fuzilavam-nos depois do que chamavam um «paseo» pelas redondezas das casas. Na Galiza, usou-se mais esse crime do que guerra aberta. Não se pode traduzir assim, sem mais, pelo português «passeio» sem sequer uma nota. Por outro lado, aparecem muitas vezes em diálogos entre membros republicanos, homens do povo, portanto, a grafia «fachistas», sem itálico, como para realçar o analfabetismo inerente à condição social desses homens. Não resultou.
Perfeitamente dispensável.