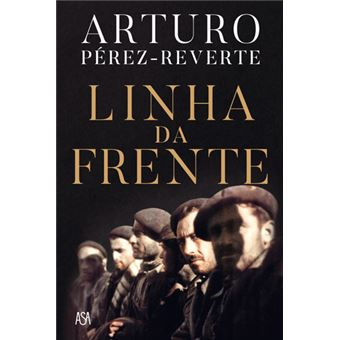domingo, dezembro 31, 2023
«Um Homem muito Procurado», John Le Carré
sexta-feira, dezembro 22, 2023
Luta pelo Clima - Isto ainda vai acabar mal
segunda-feira, dezembro 18, 2023
«Linha da Frente» - Arturo Pérez-Reverte
quinta-feira, dezembro 14, 2023
«Pensar a Imagem, Olhar o Texto», Estela Rodrigues
quinta-feira, dezembro 07, 2023
«Fechada para o Inverno», Jorn Lier Horst
IA no genocídio de Gaza. Inquietante e previsível
sábado, dezembro 02, 2023
«As Personagens», Ana Teresa Pereira
quarta-feira, novembro 29, 2023
28 de Novembro: Traço, Viagem, Insular, Memória no Centro Cultural Penedo da Saudade, Coimbra
Eis o vídeo de apresentação de Traço, Viagem, Insular, Memória facultado pelo Centro Cultural Penedo da Saudade, em Coimbra:
A 17 de Novembro, no portuense Gato Vadio, a apresentar Traço, Viagem, Insular, Memória
«Marcada para a Vida», Emelie Schepp
quinta-feira, novembro 23, 2023
«As Benevolentes», Jonathan Littell (o artigo que faltava, escrito em 2012)
A leitura de As Benevolentes de Jonathan Littel não é um exercício fácil. Não só porque se lê «bem», isto é, com interesse e curiosidade, mas também porque recusa exemplarmente o entretenimento fácil. Quase 70 anos após a II Guerra Mundial, o autor fala-nos dela (e de todas as guerras, por sinal) como só Céline o fez. Suja, malcheirosa, sanguinária, impiedosa. Falar de crueldade é pouco. O pior de tudo é que seguimos a personagem de Max Aue, um SS responsável junto ao Reichfuhrer Himmler e ao também tristemente célebre Eichmann, na solução do «problema judeu». Aue não gosta do que vê nos campos de concentração e na condição dos judeus nos diversos campos que visita. Não nos iludamos: o seu repúdio é porque é mão-de-obra inútil que poderia dar frutos junto das fábricas de armamento de Speer. Poderiam ser mais bem tratados, os judeus, até porque a solução final de Hitler nunca mais poria a «raça» judaica em pé. Sinistro. Como sinistro é sabê-lo professor de Filosofia numa das melhores universidades de Berlim, admirador de Jünger e Platão e da literatura de Flaubert que o acompanha, aliás, na frente russa e no cerco de Estalinegrado. Homossexual recalcado, ama a sua irmã gémea donde surgem igualmente gémeos que são escondidos na Suíça. Assassina a mãe e o padrasto com a cobertura das mais altas individualidades SS. Mata igualmente, já no final da guerra, um aristocrata que tocava Bach numa igreja simplesmente por ser um burguês culpado da agonia do nacional-socialismo.
quinta-feira, novembro 16, 2023
«Silverview», John Le Carré
quarta-feira, novembro 15, 2023
«Cosmos - Uma Ontologia Materialista», Michel Onfray
segunda-feira, novembro 06, 2023
«Os Palestinianos», artigo de Jean Genet em 1971 para a Revista Zoom. Em «L'Ennemi Déclaré», Gallimard
«Fome», Knut Hamsun
Cavalo de Ferro, 5ª edição, 2022. Tradução do norueguês de Liliete Martins
A fome tal como ela é. Este livro do norueguês nobelizado em 1920 e falecido na miséria em 1952 devido às suas simpatias nazis durante a II Guerra Mundial (não foi o único na Noruega, antes pelo contrário, mas disso já tratámos aqui) é de uma violência nada condizente com a chamada sociedade de abundância com que vivemos hoje no Ocidente. Mas que ela existe, existe. Anda por aí, disfarçada, e como tema ou experiência é arredada para debaixo do tapete como em qualquer sociedade de bons costumes liberais que se preze. Tenhamos a noção, ao acabar de ler este livro, que a fome descrita desta maneira crua, só pode ter sido vivida por quem a sentiu e desesperou com ela: a fome. Tanto física, como psíquica a fome apresenta-se com toda a verdade que lhe é inerente. Não há escapatória ou purgante para a fome. O desespero de quem não tem hipótese de comer naquele momento e, pior, de quem não vê qualquer perspectiva de o fazer num futuro próximo. A contagem dos cêntimos, a venda de produtos colados ao corpo, por vezes a venda do próprio corpo ou dos órgãos, a riqueza imensa de ter um bocado de pão mesmo recesso. O esvaziar lento dos valores de sociabilidade, o ódio crescente aos passantes, a todos nós chega a invectiva de quem tem fome. A fome fica, permanece, não será nunca esquecida por quem a viveu, nem que fosse por um só dia.
quinta-feira, novembro 02, 2023
«Cáustico Lunar, seguido de Ghostkeeper», de Malcolm Lowry
domingo, outubro 29, 2023
"Tchétchénie, An III", Jonathan Littell
quinta-feira, outubro 26, 2023
«Europa Medieval», Chris Wickham
quarta-feira, outubro 25, 2023
Artes Breves: Traço Viagem Insular Memória
terça-feira, outubro 24, 2023
«Le Silence de la mer», Vercors
sábado, outubro 21, 2023
As acções dos activistas climáticos são necessárias e urgentes
sexta-feira, outubro 20, 2023
«amarga ironia esta de um povo que está neste continente apenas há 235 anos recusar-se a reconhecer aqueles que vivem nesta terra há mais de 60 mil anos»
Mais uma derrota do povo aborígene australiano hoje reduzido a 3,8% da população com perto de um milhão de pessoas, muitas delas vivendo em condições de pobreza de que não conseguem sair devido às políticas de discriminação social e de racismo oficiais. Ao contrário da Nova Zelândia e do Canadá que já reconhecem na Constituição os direitos dos povos autóctones (tarde piaram!), a aposta do primeiro-ministro Albanese na Austrália era criar um conselho consultivo dos Primeiros Povos (isso da deliberação ainda não é para os «primitivos»!) denominado A Voz. Em referendo os australianos foram a votos e em meados de Outubro de 2023 disseram «não». Nem deliberativo ou consultivo - nada! Torna-se evidente que um conselho daquele tipo nada mudaria, mas era um primeiro passo para a necessária, quanto desejada, forma de verem o povo aborígene como mereceria ser visto: portador de uma cultura ancestral, ligada fortemente à Natureza, que nos daria lições de vida a uma civilização no seu estertor - a nossa. Como disse um dos principais representantes dos aborígenes após a vitória do «não»: «amarga ironia esta de um povo que está neste continente apenas há 235 anos recusar-se a reconhecer aqueles que vivem nesta terra há mais de 60 mil anos».
Mas há um caso que se passou comigo que ilustra bem a violência latente neste «não» ao referendo para, ao menos, se considerar a existência do povo aborígene australiano, primeiro passo para reconhecer a infindável lista de horrores por que passou este povo levado à escravatura e a todo o tipo de torturas psicológicas e físicas. Encontrei-me em Junho deste ano, por motivos familiares, num almoço que juntava toda uma diáspora dos seus membros. Durante o almoço, e à minha frente, estava presente um casal australiano. Ela de origem irlandesa (há seis gerações na Austrália) e ele indiano de Goa. Ambos falavam inglês e encontravam-se em Portugal, percorrendo em turismo a Europa. Em junho, preparava-se então o referendo. Reproduzo o diálogo que ia dando para o torto, não fosse ainda a prevalência do que se chama a boa convivência familiar:
- It's a madness, the fucking referendum! - afirmou algo revoltado o australiano goês (a partir de agora traduzo)
- O que é que é loucura? Não entendo, desculpe - afirmei eu honestamente, visto que não sabia nada do referendo.
- Como é possível que uma minoria da população possa ser ouvida sobre as leis de uma grande maioria. Os aborígenes não têm esse direito. Que façam partidos e concorram às legislativas!
- Desculpe, se é uma minoria e concorrerem às legislativas está à espera de uma maioria absoluta para governarem o que é seu por direito histórico?
- Que direito histórico? Se eles eles se portarem bem, se seguirem as regras da sociedade e cumprirem as leis, deixando o crime, a prostituição, o alcoolismo, então integram-se e a conversa é outra! Assim, como estão, it's a madness!
De repente reparei que estava a falar com uma irlandesa de seis gerações na Austrália (claro que os seus antepassados estavam livres de todos os crimes imputados na Irlanda, estava-se mesmo a ver!) e com um goês de origem indiana que, por casamento, estava no país e que tinha idade para ter conhecido a colonização portuguesa (também não entendia por que razão não falaria português tendo a minha idade, caraças!). Eram eles que se achavam no direito de ditar leis aos povos aborígenes e a ditarem as regras civilizacionais que acharam por bem imporem, desde o rapto de crianças para conventos católicos, os massacres em massa, as violações ou a escravatura generalizada como mostra a fotografia. É uma madness, sim. Acabei assim a conversa, deixando-o a ruminar alguma coisa contra mim que, evidentemente, não estava a par da realidade australiana! Quando lhe dei boleia no final, pediu-me para não ir pela autoestrada, antes por uma estrada nacional. Assim foi. Para o degelo se dar, ele entendeu dirigir-me uma palavra simpática sobre a paisagem de Portugal. Olhando para a mancha de eucaliptos que bordeava a estrada ele atirou-me com um «It's like Australia!». Não lhe dirigi mais a palavra.